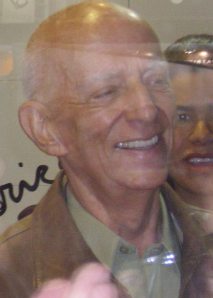O tempo opera cruéis transformações sobre o corpo. Um dos livros mais sábios jamais escritos, o Tão Te Ching, assim as descreve: “Um homem, ao nascer, é macio e frágil. Ao morrer, ele é duro e rígido. As plantas verdes são macias e cheias de seiva. Na sua morte, elas estão murchas e secas. Portanto, o rígido e o que não se curva são discípulos de vida”.
Esse processo inexorável de endurecimento manifesta-se primeiramente nos olhos. A morte tem especial predileção pelo olhar. Bachelard sabia disso e se perguntava:
“Sim, a luz de um olhar, para onde ela vai quando a morte coloca seu dedo frio sobre os olhos de um morto?”.
É nos olhos que ela injeta o seu sêmen…
Escher. Não sei se esse nome lhe é familiar. É melhor que seja porque, no dia do Juízo Final, Deus vai lhe perguntar sobre ele, e não vai gostar se você disser que
nunca ouviu esse nome. Assim, trate de conhecê-lo antes de morrer.
Os desenhos de Escher se encontram em qualquer livraria boa. Não são baratos. Se forem caros demais, veja na livraria mesmo. Freqüentar livrarias para brincar de
ver figuras e ler é uma felicidade gratuita. Já passou pela sua cabeça que livrarias são playcenters? Brincam as ideias com as palavras, brincam os olhos com as imagens, brinca o nariz com os cheiros cheios de memórias que moram nos livros, brinca o tato, os dedos acariciando o papel liso como se fosse a pele do corpo amado…
Mas, se você tem o dinheiro, vale a pena comprar. Você gastou dinheiro comprando óculos para ver melhor. Gaste dinheiro agora dando aos seus olhos o que ver. Caso contrário, você será como o tolo que compra panelas e não compra comida. As gravuras de Escher são comida para os olhos: fazem mais bem aos olhos do que os melhores colírios…
Os desenhos de Escher são koans, desafios ao olhar, terremoto da inteligência. Uma das suas gravuras mais terríveis tem o nome de Olho: é só um olho e, dentro dele, refletida, a imagem da morte.
Comparando o dito de Tão Te Cbing com a gravura de Escher, concluo que aquele é um olho adulto, pois é no corpo endurecido de adultos que a morte mora.
O remédio, segundo o mesmo livro, é tornarmo-nos “de novo como crianças pequenas”. Se isso lhe acontecer, você não voltará a ser criança pequena de novo, como pensou o tolo Nicodemus quando Jesus lhe disse a mesma coisa; você ficará como criança pequena. Ficar como criança pequena é ficar sábio. Diz o Tão Te Ching que o segredo do sábio – a razão por que todos olham para ele e o escutam – é que “ele se comporta como uma criança pequena”. O sábio é um adulto com olhos de criança. Os olhos,diferentemente do resto do corpo, preservam para sempre a propriedade mágica de rejuvenescimento.
Sua cabeça de cientista provavelmente discordará. Você dirá que somente os adultos vêem direito. Os adultos passaram muitos anos nas escolas, seus olhos fizeram caminhadas infinitas pelos livros. Os seus olhos sabem muito, estão cheios. Por isso, devem ver melhor.
Mas esse é, precisamente, o problema. Quando um balde está cheio de água, não é possível colocar mais água dentro dele. Os olhos dos adultos são como balde cheio, como um espelho no qual se colou uma infinidade de adesivos coloridos. O quadro ficou bonito. Mas o espelho se foi. O espelho parou de ver. Ficou cego.
Os olhos das crianças são baldes vazios. Vazios de saber. Prontos para ver. Querem ter tudo. Tudo cabe dentro deles. Minhocas, sementinhas, bichinhos, figuras, colheres, pentes, folhas, bolinhas, colares, botões. Os olhos de Camila, minha neta, se encantam com as coisas. Para eles, tudo é fantástico, espantoso, maravilhoso, incrível, assombroso.
Os olhos das crianças gozam da capacidade de ter o “pasmo essencial” do recém-nascido que abre seus olhos pela primeira vez. A cada momento eles se sentem nascidos de novo para a eterna novidade do mundo.
Walt Whitman diz que, ao começar os seus estudos, o que mais o agradou foi o dom de ver. Ficava encantado com as formas infinitas das coisas, com os mais pequenos insetos ou animais: “[o passo inicial] me assustou tanto, e me agradou tanto, que não foi fácil para mim passar, e não foi fácil seguir adiante, pois eu teria querido ficar ali flanando o tempo todo, cantando aquilo em cânticos extasiados”.
Os olhos dos adultos, havendo se enchido de saber, e havendo, portanto, perdido a capacidade de ver das crianças, olham sem nada ver (daí o seu tédio crônico) e ficam procurando cura para sua monotonia de ver em experiências místicas esquisitas, em visões de outros mundos, ou em experiências psicodélicas multicoloridas.
Pois eu lhe garanto que não existe visão de outro mundo que se compare, em beleza, à asa de uma borboleta. Quem o disse foi Cecília Meireles, poetisa. Os poetas são religiosos que não necessitam de religião porque os assombros deste mundo maravilhoso lhes são suficientes. Foi assim que ela pintou a cosmologia poética que seus olhos viam:
No mistério do Sem-Fim,
equilibra-se um planeta.
E, no planeta, um jardim, e, no jardim, um canteiro-, e no canteiro, uma violeta,
e sobre ela, o dia inteiro,
entre o planeta e o Sem-Fim,
a asa de uma borboleta.
“Um homem, ao nascer, é macio e frágil. Ao morrer, ele é duro e rígido.”
O que o sábio chinês disse ao corpo inteiro, o poeta espanhol Antônio Machado disse aos olhos:
Olhos que para a luz se abriram
um dia para, depois,
cegos retornar a terra,
fartos de olhar sem ver!
As contas de vidro e o fio de nylon
Confesso a minha impiedade: não consigo amar a Deus. Não consigo amar nada em abstrato. Preciso de um rosto, uma voz, de um olhar, de um toque de mão. Amo com os meus sentidos. Mas Deus, eu nunca vi. Não sei como ele é. Por isso não consigo amá-lo. Meu mestre Alberto Caeiro está pior do que eu, pois chega ao ponto de afirmar que nem mesmo pensar em Deus ele consegue: “Pensar em Deus é desobedecer a Deus, porque Deus quis que não o conhecêssemos, por isso se nos não mostrou”.
O amor é o melhor tônico de memória. Quando o nome da coisa amada é pronunciado, ela logo ressuscita dos mortos e aparece viva em nossa imaginação. E o corpo se enche de saudades. A saudade é o sintoma de que uma coisa amada perdida saiu do túmulo. Mas o nome de Deus não faz nada com a minha memória. Não provoca ressurreições.
Não sinto saudade de coisa alguma. O corpo não se comove.
Gosto do poema de Brecht intitulado “Prazeres”. Sem rimas ou métrica, é uma simples enumeração de algumas das coisas que o faziam feliz.
Vidros coloridos de um vitral.
A primeira olhada pela janela de manhã.
O velho livro de novo encontrado.
Rostos entusiasmados.
Neve, a mudança das estações.
O jornal.
O cão.
Tomar banho.
Nadar.
Velha música.
Sapato confortável.
Perceber.
Nova música.
Escrever, plantar.
Viajar.
Cantar.
Ser amigo.
O meu “Prazeres” seria parecido.
Acordar, pensar na faca, no queijo e na fome.
Caminhar,
os olhos passeando pelas árvores,
pela grama molhada de chuva,
pelos pássaros.
O Sol acabado de nascer.
Suco de laranja, café fumegante,
pão com manteiga, ovo quente.
Os pensamentos que me vêm enquanto caminho.
Planejar o meu jardim Zen.
Música.
A Mariana e a Camila.
O outro neto ou neta, ainda sem nome.
Chá gelado com limão.
Memórias.
Livros.
O Calvin.
Basta escrever o seu “Prazeres”. Quando os olhos ficam atentos às pequenas alegrias é fácil ser poeta.
Hermann Hesse escreveu um livro intitulado O jogo das contas de vidro. É a estória de uma ordem monástica na qual os seus membros, em vez de gastarem seu tempo com ladainhas e exercícios semelhantes, se dedicavam a um jogo que era jogado com contas de vidro coloridas. Eles sabiam que os deuses preferem a beleza às monótonas repetições sem sentido. O livro não descreve os detalhes do jogo. Mas eu sei do que se tratava. Enquanto escrevo, ouço a Sonata no 27, op. 90, de Beethoven. É linda.
As contas de vidro coloridas de Beethoven, nessa sonata, são as notas do piano.
Vitrais também são jogos de contas de vidro. Foi na poesia de uma poetisa minha amiga, ex-aluna, Maria Antônia de Oliveira, no livro Cerigüela, que pela primeira vez vi a vida como um vitral.
A vida se retrata no tempo
formando um vitral,
de desenho sempre incompleto
de cores variadas, brilhantes, quando passa o Sol. Pedradas ao acaso acontece
de partir pedaços ficando buracos,
irreversíveis. Os cacos se perdem por aí.
Às vezes eu encontro cacos de vida que foram meus, que foram vivos.
Examino-os atentamente tentando lembrar de que resto faziam parte. Já achei caco pequeno e amarelinho
que ressuscitou de mentira, um velho amigo.
Achei outro pontudo e azul, que trouxe em nuvens
um beijo antigo,
Houve um caco vermelho
que muito me fez chorar,
sem que eu lembrasse
de onde me pertencera.
Esses cacos de vitral, essas contas de vidro coloridas isso meu corpo e minha alma amam, para todo o sempre. O amor não se conforma com o veredicto do tempo – os cacos do cristal se perdendo dentro do mar, as contas de vidro colorido afundando para sempre no rio do tempo.
Quero que tudo que eu amei e perdi me seja devolvido. Todas essas coisas moram nesse imenso buraco dolorido da minha alma que se chama saudade.
Para isso eu preciso de Deus, para me curar da saudade. Dizem que o remédio está no esquecimento. Mas isso é o que menos deseja aquele que ama. Conta-se de um homem que amava apaixonadamente uma mulher que a morte levou. Desesperado, apelou para os deuses, pedindo que usassem seu poder para lhe devolver a mulher que tanto amava.
Compadecidos, eles lhe disseram que devolver sua amada não podiam. Nem eles tinham poder sobre a morte. Mas poderiam curar seu sofrimento, fazendo-o esquecer-se dela. Ao que ele respondeu: “Tudo, menos isso. Pois é o meu sofrimento o único poder que a mantém viva, ao meu lado!”.
Também eu não quero que os deuses me curem, pelo esquecimento. Quero antes que eles me devolvam minhas contas de vidro. E é assim que eu imagino Deus: como um fino fio de nylon, invisível, que procura minhas contas de vidro no fundo do rio e as devolve a mim, como um colar. Não por ele mesmo (sobre quem nada sei), mas por aquilo que ele faz com minhas contas…
Quero Deus como um artista que cata os cacos do meu vitral, partido por pedradas ao acaso, e os coloca de novo na janela da catedral, para que os raios de Sol de novo por eles passem.
O que eu quero é um Deus que jogue o jogo das contas de vidro, sendo eu uma das contas coloridas do seu jogo…
Rubem Alves